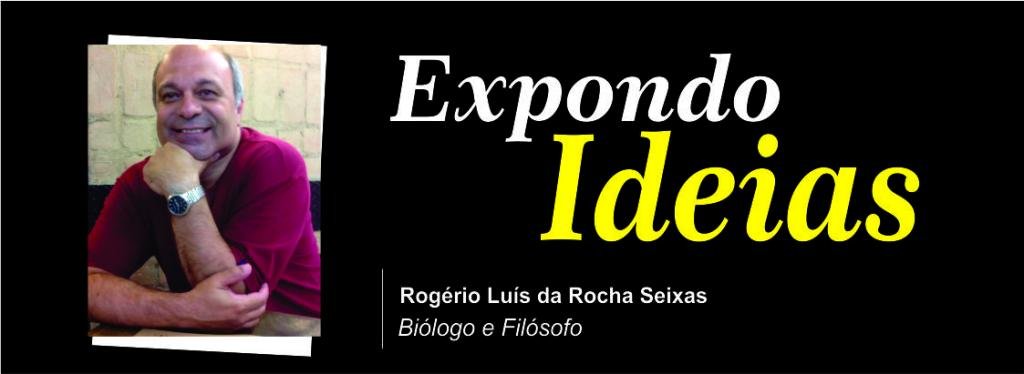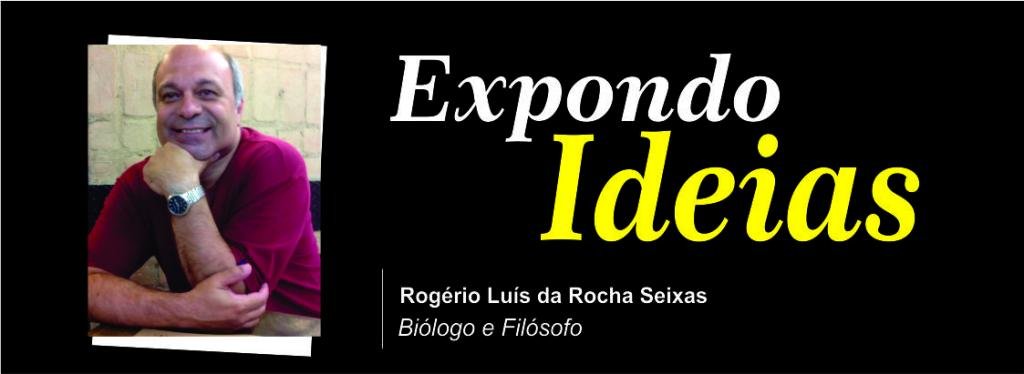Os Direitos humanos, são para quais humanos?
 Historicamente, afirma-se que o denominado Estado de Direito surgiu, significando uma forma de governo e exercício da soberania, marcada pela ideia de garantir direitos para todos, embasando-se em princípios democráticos, visando garantir os direitos de todos os seus cidadãos. Neste aspecto, o Estado legalmente deve garantir a concretude dos princípios de igualdade e dignidade de toda a pessoa humana. Princípios essenciais que ilustram os direitos humanos mais primordiais. Afinal, o discurso sobre os Direitos Humanos já no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, coloca a assertiva de que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 2009, p.4). Podemos verificar de imediato, a amplitude de um marco normativo abstrato e baseado em conceitos firmados na modernidade, sobretudo no Iluminismo, e que também serviram de base para a ideia de emancipação do homem pela razão.
Historicamente, afirma-se que o denominado Estado de Direito surgiu, significando uma forma de governo e exercício da soberania, marcada pela ideia de garantir direitos para todos, embasando-se em princípios democráticos, visando garantir os direitos de todos os seus cidadãos. Neste aspecto, o Estado legalmente deve garantir a concretude dos princípios de igualdade e dignidade de toda a pessoa humana. Princípios essenciais que ilustram os direitos humanos mais primordiais. Afinal, o discurso sobre os Direitos Humanos já no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, coloca a assertiva de que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 2009, p.4). Podemos verificar de imediato, a amplitude de um marco normativo abstrato e baseado em conceitos firmados na modernidade, sobretudo no Iluminismo, e que também serviram de base para a ideia de emancipação do homem pela razão.
Pois bem, mas podemos nos questionar: a que humanos estamos nos referindo ou se de fato são considerados humanos? Se não são considerados humanos, são passíveis de ter acesso a algum tipo de direito? Nas práticas de racismo, a constituição dos corpos negros ou ditos não-brancos, segundo Grada Kilomba, vai afirma-los como “corpos que estão fora do lugar e por essa razão, corpos que não podem pertencer a um todo social.” (KILOMBA,2019, p.56). Neste aspecto, se encontram fora da descrição de Humanidade iluminista, branca e europeia, pois são sujeitos inferiormente racializados e portanto desumanizados, sob as quais aplica-se uma gestão de política da morte.
Silvio de Almeida sustenta que o modelo de poder do Estado no Brasil, sofrendo exatamente os reflexos da escravidão e colonialismo, exerce-se o livre poder de matar, ou o necropoder, colocando os indivíduos racializados como negros na situação de corpos matáveis, negados em ter acesso aos seus direitos e despossuídos de valores, encontrando-se em situação sempre comum de extermínio, constituindo-se assim um cenário em que: “A guerra, a política, o homicídio e o suicídio tornam-se indistinguíveis” (Almeida, p. 90).
Praticam-se violências que se tornaram banais, pois são até corroboradas pelo corpo político-social, como as que observamos nas comunidades que podem ser consideradas como zonas policiais ou zonas de negação de qualquer tipo de direitos, onde a população é qualificada enquanto potencialmente nociva e perigosa, motivo pelo qual deve ser vigiada e eliminada, pois a partir de uma prática de gestão política da morte, se estabeleceu o binômio inimigo-guerra. Temos, portanto, uma sociedade militarizada e punitivista que continua a produzir incessantemente inimigos racializados, que necessitam ser mortos. Assim sendo, ao tratarmos a questão da política de morte, aponta-se para a erradicação de subgrupos de uma população racialmente administrada, onde o racismo apresenta como função, regular a distribuição da morte e possibilitar as funções de matar por parte do Estado. Fazer matar sob uma perspectiva que decide justamente em que momento uma vida não é vida de direitos, ou um ser humano é desumanizado, não sendo passível de ter direitos em relação a outro, considerado totalmente humano, deixando de ser relevante e, consequentemente, podendo ser eliminado do corpo social.
Tal situação se torna possível segundo Silvio Almeida, quando o racismo, enquanto processo político e histórico, ganha a característica estrutural em uma sociedade como a nossa, se estabelecendo também em um processo de constituição de sujeitos cujas consciências e os afetos, encontram-se conectados com as práticas sociais racistas. Almeida aponta também que: “Quando os sujeitos são racializados e categorizados como subgrupos ou subalternos, são estabelecidas as condições estruturais e institucionais para o racismo” (ALMEIDA, 2018, p.50). Desta forma, ao discutirmos e refletirmos sobre o racismo e os direitos humanos, voltando-nos para a nossa realidade nacional, buscamos refletir uma atualidade marcada pelos abusos de poder político e a negação de direitos humanos primordiais como o direito a dignidade, aos corpos negros, inferiormente racializados, marginalizados e atacados, transformados em não-seres humanos.
Outrossim, quando nos referimos as ações políticas, as reflexões e aos debates sociais e também históricos sobre racismo em nossa sociedade, percebemos alguns avanços, mas inegavelmente o racismo ainda continua a ser tratado como questão menor, ou ainda se percebe o esforço e o desejo que sua problematização permaneça velada. Mesmo que bastante desconstruído pelo avanço dos movimentos sociais e antirracistas, ainda permanece em nosso ideário social um resquício da ideia de democracia racial, que ao mesmo tempo que nega o racismo, atua enquanto estratégia de racialização.
Referências
ALMEIDA, S. Racismo Estrutural. São Paulo: Ed. Pólen, 2018.
KILOMBA, G. Memórias da Plantação: Episódios de racismo cotidiano. Tradução de Jessé Oliveira. Ed. Cobogó, 2019.
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2009. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/ DUDH.pdf. Acesso em: 04 mar. 2020