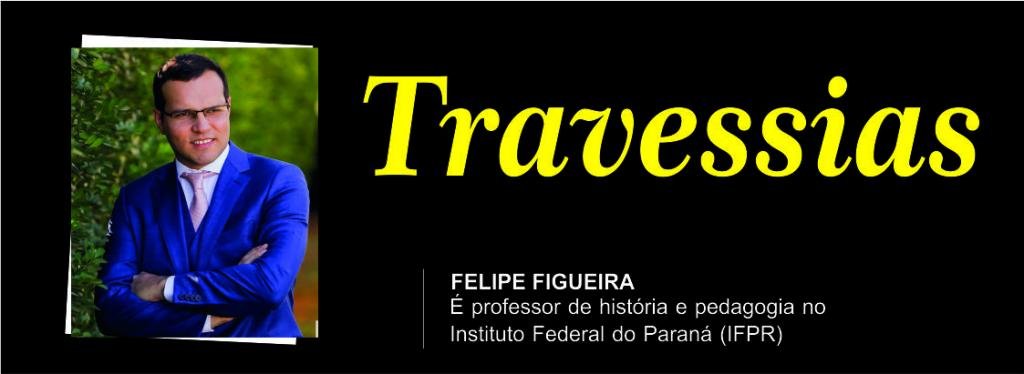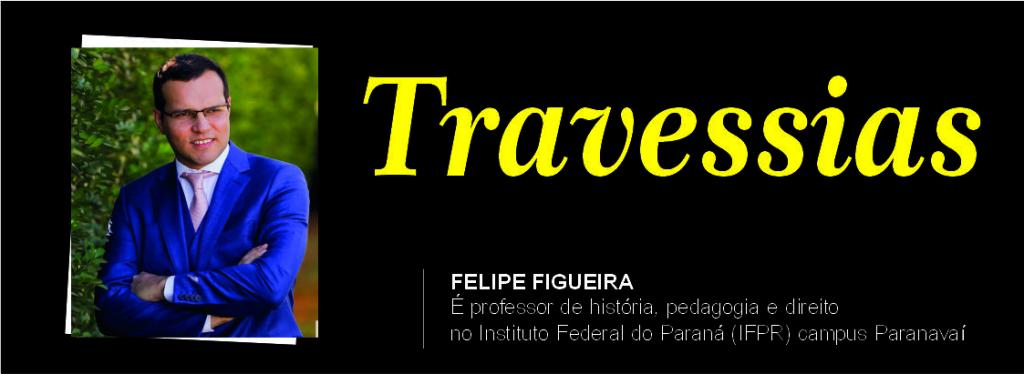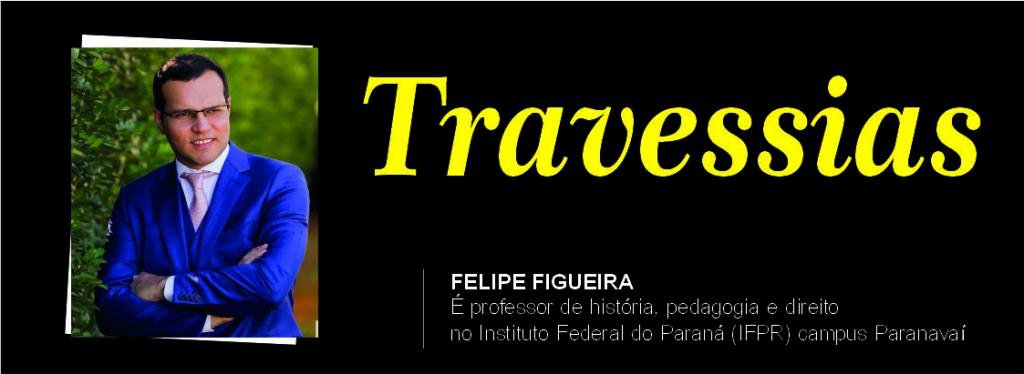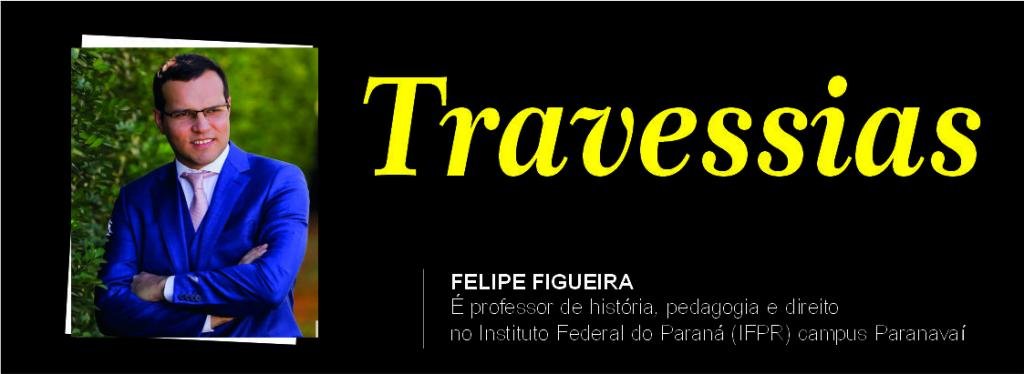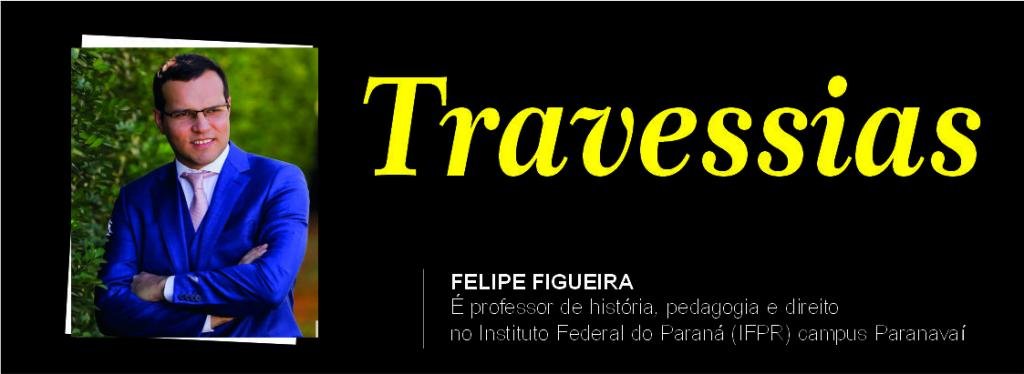Resenha do filme “O Senhor das Moscas”
O filme “O Senhor das Moscas” (1990), inspirado no livro homônimo de William Golding, é cheio de simbolismos, que vão desde o nome (que sugere algo místico), até vários elementos durante a obra, como o fogo no cume da montanha que logo se apaga por descuido de alguns vigilantes.
À parte os vários elementos simbólicos, “O Senhor das Moscas” traz uma série de reflexões pedagógicas e filosóficas, dentre elas: a educação formal é suficiente para aplacar iras e organizar a sociedade de forma razoável e definitiva? A natureza humana, se é que ela existe, é boa, má ou além do bem e do mal? E, afinal, o que seriam esses conceitos de bem e de mal?
Uma ideia filosófica bastante famosa é a proposta por Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo francês, de que “o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe”; trata-se da teoria do “bon sauvage” (bom selvagem). De tal pensamento resulta a perspectiva de que a natureza é boa, logo, quem vive em estado natural é por si só bom, uma espécie de habitante de um paraíso perdido. Foi sob a influência de Rousseau que muitos colonizadores, ao se depararem com indígenas (povos originários) nus, não viram qualquer forma de malícia, pelo contrário, tratavam-se de pessoas puras no sentido judeu e cristão do termo, isto é, seres humanos que viviam no “Jardim do Éden”.
Em consonância com a ideia do “bom selvagem” acima trazida, a criança também foi romantizada, e isso sob certa influência de Rousseau, enquanto um período de pureza, onde o mal passaria ao largo. Segundo os ensinamentos do psicanalista Contardo Calligaris: “As crianças modernas são um objeto de contemplação, de agrado e descanso para nossos olhos. Criamos, vestimos, arrumamos as crianças para comporem uma imagem perfeita e segura de felicidade” (CALLIGARIS, 2000, p. 65). O adulto, este sim seria passível de todo tipo de perversões e maldades. No entanto, se a criança é um conto de fadas, isso pode render um outro artigo, tendo por base, dentre outros textos, “A psicanálise dos contos de fadas”, de Bruno Bettelheim.
À parte os vários problemas que podem ser lançados em torno do pensamento do ilustre filósofo francês, cabe dizer que em “O Senhor das Moscas” as crianças e os adolescentes são lançados à própria sorte, após um acidente de avião, em uma ilha desabitada. Antes de continuar essa resenha, um esclarecimento: chamarei o grupo de crianças e adolescentes de crianças apenas, pois o mais velho não chega a ultrapassar 15 anos.
Retornando ao conteúdo: as crianças, pelas vestimentas, é possível perceber que vieram de uma escola militar, logo, foram educadas a partir de formalismos e hierarquia. O líder, Ralph, é chamado de coronel, mas também há outros meninos, como Jack (que é mais velho do que Ralph, porém, com menor patente), que buscam a proeminência em relação ao grupo.
O tempo que se passa na ilha, do tempo que o avião cai até o momento em que o grupo é encontrado, é bastante estranho. Há uma série de transformações (ou revelações?) em torno dos personagens que parecem levar muitos e muitos dias, quando, na verdade, não é muito tempo que se passa na ilha. Esse lugar desabitado parece ser um universo à parte, onde o tempo de nada serve e os princípios morais tampouco.
Aos poucos, do grupo maior são formados grupos menores, algo típico em sociedades. Porém, o que é possível observar é que o filme mostra uma trágica dicotomia entre bem e mal: há um grupo liderado por Jack, que se especializa em caçar, e há um grupo liderado por Ralph, que é mais pacífico e, digamos, civilizado.
“Piggy” (na tradução: Porquinho), um menino gordinho que usa óculos, é um porta-voz do grupo de Ralph. Ele traz em si a figura de um intelectual, não obstante, muitas crianças não cansam de caçoar dele, o que se percebe que, apesar de serem crianças, a bondade é um valor relativo e que pode ser, no mínimo, mitigado, diminuído diante de circunstâncias concretas. Se a criança é a que mais se aproxima do estado de natureza, e muito mais no caso os garotos de “O Senhor das Moscas”, que se encontram na natureza, então o que seria a natureza humana? Como seria possível em tenra idade a agressividade se manifestar? São dilemas que o filme, propositalmente, não responde.
O clima na ilha vai de mal a pior, apesar de todos os apelos em prol da organização, representada, por exemplo, por uma concha (quem tivesse a concha e a assoprasse poderia chamar uma assembleia e teria o direito à palavra). Os dois grupos tornam-se cada vez mais distantes até o ponto em que se tornam incomunicáveis. Piggy, diante do drama da situação, chega a dizer: “Fizemos igual o que os adultos fariam. E por que não deu resultado?”. Resta, assim, questionar: por que os ensinamentos dos adultos não deram certo no caso concreto? Por que, segundo o filósofo Walter Benjamin (1892-1940): “Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie” (BENJAMIN, 1987)? São mais questões que o filme, caprichosamente, não responde.
Um adendo: a obra “Fitzcarraldo”, de Werner Herzog, é um belo exemplo que combina cultura e barbárie. Para construir um teatro de ópera em meio à floresta amazônica peruana, o irlandês Fitzcarraldo compra um navio para explorar borracha. Com o dinheiro desse trabalho seria possível a construção da tão almejada ópera, que seria inaugurada com o grande tenor italiano Enrico Caruso. Todavia, as coisas não saem como esperado, e brigas, mortes, desmatamento e uma estranha exploração indígena fazem parte do roteiro.
Retornando a “O Senhor das Moscas”, há vários outros aspectos que poderiam ser destacados, e que valem ao menos uma menção: o mal parece imperar, conseguindo mais adeptos; pessoas boas são muitas vezes facilmente sugestionáveis; um “churrasco” (no filme, de porco, preparado pelo grupo de Jack) vale mais do que uma penca de bananas (encontrada pelos parceiros de Ralph). Nesse momento da resenha não custa lembrar a constatação de Sigmund Freud (1856-1939): “Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade” (FREUD, 2018, p. 80-81).
Quem trabalha com a educação formal, como é o meu caso, diante da película aqui em resenha, fica com uma série de questionamentos sobre o ser humano. Qual o papel do professor para com a promoção do bem coletivo? Mas, o que seria esse bem? Freud (1980) dizia que o educar era um “ofício impossível”, junto com governar e psicanalisar, pois a educação trabalha com o consciente e este é muito frágil diante da imensidão do inconsciente. O próprio Freud, em seus escritos finais, cunhou o conceito de pulsão de morte, que seria um impulso que levaria tudo ao nada, ao inorgânico, isto é, o fim da agressividade era o nada, a morte.
O que se percebe em “O Senhor das Moscas” é justamente a pulsão de morte em crescimento, a civilização em profundo mal-estar, sendo que a ação humana positiva, por mais desejável que seja, é muito fraca. Então, o que fazer? Desistir de tudo? Nada disso! Apesar de tudo, ainda é preferível o pouco, a busca por algo positivo, do que abrir mão da vida. Essa lição final não aparece explicitamente no filme – talvez até não apareça implicitamente -, mas é fruto da minha liberdade de interpretação enquanto educador. Todavia, não cabe a mim dar respostas, mas apresentar problemas, e isso para seguir no universo gerado pelo filme.
|
O Senhor das Moscas (no original em inglês: “Lord of the Flies”) Ano: 1990 Direção: Harry Hook Elenco: Balthazar Getty, Danuel Pipoly, Edward Taft. Gênero: Drama. |
Referências
Contardo Calligaris. A Adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000.
Sigmund Freud. Análise terminável e interminável. Rio de Janeiro: Imago, 1980.
Sigmund Freud. O mal-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
Walter Benjamin. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987.
Por Felipe Figueira