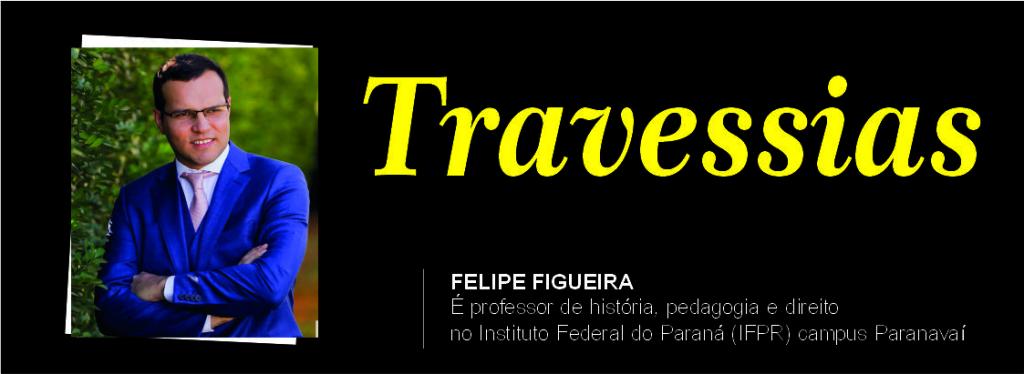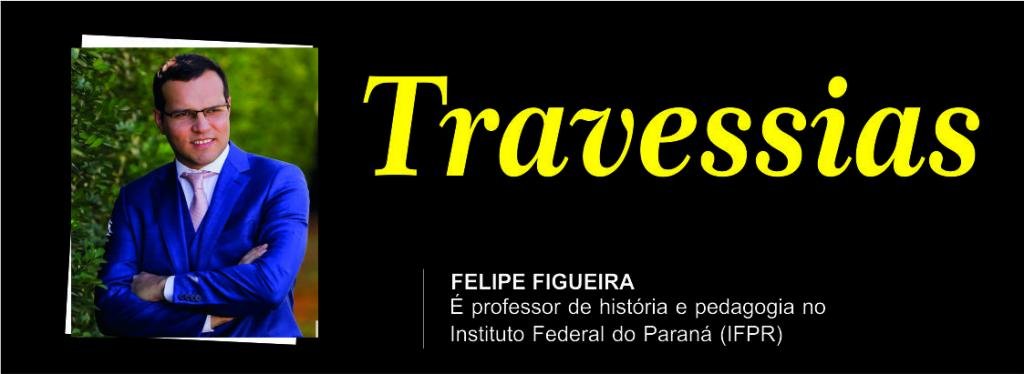“Dom Casmurro”, de Machado de Assis
Antes de iniciar este texto, preciso fazer uma nota. Este será um comentário com sabor de viagem, no qual, ao longo das palavras acrescentarei imagens de minha viagem ao Rio de Janeiro, especialmente de lugares que povoam as histórias de “Dom Casmurro”. Os outros textos sobre Machado também receberão imagens, para que você, caro leitor, possa ler e viajar com facilidade.
1. Minha história com o livro
“Dom Casmurro” é uma obra publicada em 1899 e que mexeu com os leitores da época e que mexe com os de agora. Lembro-me que quando a li pela primeira vez, em 2003, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, o impacto foi tão grande que em pouco tempo a reli e fui atrás de mais informações. Dentre os materiais extras que encontrei estava um audiolivro que ouvi diversas vezes e que conseguia imaginar, com perfeição, Bentinho, Capitu e Escobar.

O interessante dessa obra, relendo-a mais de vinte anos depois, é que ela permanece marcante em minha vida e que um e outro pontos da história de Bentinho (Bento Santiago) são parecidos com a minha. Ainda bem que só um e outro aspectos, mas que valem a pena mencionar:
1º O moço, natural do Rio de Janeiro e da Rua de Matacavalos, foi para o Seminário São José aos dezesseis anos e saiu aos dezessete (eu também fui para o seminário católico, em uma igreja chamada São José Operário, na mesma idade que Bentinho e também saí aos dezessete).
2º Bentinho, após sair do seminário, estudou Direito em São Paulo, onde hoje é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (no meu caso, também estudei Direito).
Machado de Assis, que é considerado o maior escritor da literatura brasileira, é um colosso, que foi da crônica ao romance, do conto à poesia. Erudito que era, conhecia a fundo filosofia, psicologia e música, prova disso é que em “Dom Casmurro” abundam referências a essas áreas. Até a ópera de Wagner é mencionada. E, escritor prolífico e potente que era, também ajudou a criar instituições, sendo a mais famosa a Academia Brasileira de Letras, instituição na qual foi o primeiro presidente.

Faculdade de Direito - USP
2. O livro
2.1 O enredo
“Dom Casmurro” narra a história de Bentinho, um moço que nasceu no Rio de Janeiro do século XIX e que morava na Rua de Matacavalos (atual Rua Riachuelo), no centro da capital carioca, próximo dos Arcos da Lapa. Órfão de pai desde recém-nascido, cresceu com a mãe, Dona Glória, e com alguns agregados, sendo eles, Tio Cosme, Prima Justina e José Dias. Tão logo cresceu, a amizade de criança que tinha com Capitu tornou-se amor, a ponto de os dois, com quatorze (ela) e quinze (ele), terem jurado se casar. Mas, nada seria tão simples na vida de Bentinho.
Dona Glória havia feito uma promessa em nome do filho, que, se o seu menino, filho único, nascesse com vida, ela o encaminharia ao seminário. E assim foi. O tempo se passou, o menino cresceu e, quando estava com dezesseis anos, obediente à mãe, entrou para o Seminário São José e lá, de imediato, formou amizade com Escobar, um rapaz três anos mais velho e que era filho de um advogado de Curitiba. O que os dois tinham em comum? Intelectualmente, pouca coisa, um gostava das letras (Bentinho) e o outro dos números, mas, ambos não tinham a pretensão de se tornar sacerdotes. Ficariam apenas um período no seminário para fins educacionais.
Mas, como é que Bentinho se livraria da promessa da mãe? Eis uma tarefa que foi difícil, que contou com planos mirabolantes do próprio protagonista e do agregado José Dias, sendo um deles o de ir a Roma pedir ao papa revogar a promessa. No entanto, a melhor ideia veio de Escobar, que, de tão genial, mas simples, não a contarei, mas deixarei para que você, leitor, vá atrás.
Enquanto estava no seminário, Bentinho não perdia uma oportunidade de visitar a mãe e de, igualmente, visitar a namorada, que, nos termos consagrados de José Dias, tinha um “olhar de cigana oblíqua e dissimulada” (ASSIS, 2016, p. 34; cap. XXV). Esses mesmos olhos, que revelariam a personalidade de Capitu, alegre e enigmática, também serão a fonte da manifestação dos ciúmes de Bentinho. Quanto aos ciúmes, eis um ponto central da obra, sendo “Dom Casmurro” um estudo psicológico dos mais brilhantes sobre ciúmes, cismas, neuroses. Vejamos os pensamentos do protagonista sobre essas aflições:
“Por falar nisto, é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei, a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer; muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim (disse-me uma senhora, um dia) é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê.” (ASSIS, 2016, p. 330; cap. CXIII).

Rua dos Barbonos (atual rua Evaristo da Veiga)
O fato é que Bentinho sai do seminário e vai estudar Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, e cinco anos depois regressa bacharel à então capital brasileira e logo se casa com o amor de sua infância. Escobar, que também havia saído do seminário, se casa com Sancha, a melhor amiga de Capitu, e os dois casais tornam-se inseparáveis. Primeiramente, nasce uma filha a Sancha, e, alguns anos depois, um filho a Capitu, que recebe o nome de Ezequiel, que era o primeiro nome de Escobar. Daqui para frente é que começa o martírio do protagonista, que enxerga no filho a feição do amigo. Não vale a pena detalhar toda essa trama, ao menos não aqui, pois essa é uma tarefa para o leitor, mas, merece menção o fato de que esse imbróglio já rendeu polêmicas, a ponto de que Dalton Trevisan dizia: “Se Capitu não traiu Bentinho, então Machado de Assis é José de Alencar.”

Vista do Corcovado a partir do Pão de Açúcar
“Dom Casmurro” é um romance didático, que vai desde a construção de personagens, capítulo por capítulo (todos os capítulos da obra são curtos), até o desfecho, que, na verdade, já aparece no primeiro capítulo, que, de tão irônico e bem humorado, valem a menção integral.
“Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.
— Continue, disse eu acordando.
— Já acabei, murmurou ele.
— São muito bonitos.
Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” — “Vou para Petrópolis, Dom Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” — “Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.”
Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título para a minha narração; se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores; alguns nem tanto.” (ASSIS, 2016, p. 79-80; cap. I).
A quem me pede um bom romance, seja para diversão, seja para aprender a escrever, “Dom Casmurro” não poderia ser melhor.
2.2 O escritor
Uma coisa é certa: todo escritor precisa ter familiaridade com o que narra, de modo que o texto soe o mais natural possível. Quanto a isso, é possível dizer que Machado tinha familiaridade com o que escrevia, sendo que é magnífico ver a harmonia dos seus textos, a sua voz inconfundível e o Rio de Janeiro a desfilar em suas páginas.

Rua do Catete
Uma das características do escritor carioca, que, para Otto Maria Carpeaux, era dotado de “ceticismo e malícia secreta” (CARPEAUX, 2012, p. 48), é a ironia. Parece um clichê dizer isso, mas, qual o problema, se ele for uma verdade e que deve ser dito? Porém, não é uma ironia vulgar, algo que Rainer Maria Rilke (2013, p. 30) recomendou que os escritores evitassem, mas, é um modo de ser sério e sofisticado. Como não rir ao ler o primeiro capítulo de “Dom Casmurro”? E como, também, não perceber o alto grau de seriedade com que Bentinho explica o seu apelido “Dom Casmurro”? E como não rir com a associação entre a sarna e a escrita, feita no capítulo LIV?
“No seminário... Ah! Não vou contar o seminário, nem me bastaria a isso um capítulo. Não, senhor meu amigo; algum dia, sim, é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos cinquenta anos, não despega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela; e, sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário tive um companheiro que compôs versos, à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente.” (ASSIS, 2016, p. 198; cap. LIV).

Arcos da Lapa
Machado de Assis é um autor com uma escrita fácil de ler, porque ele a lapidou com esmero, mas, ao mesmo tempo, é exigente, que não se entrega com facilidade. Essa é uma característica dos grandes escritores: não se lê “Dom Casmurro” ou “A igreja do Diabo” como se lê um livro qualquer; a diversão neles não é a do mero entretenimento.
Outro aspecto a ser mencionado em Machado é que ele, de modo simples, por meio do mostrar e não do contar, traz os costumes do Brasil Império, em especial os do Rio de Janeiro. Os tipos de transportes, os tipos de comércio, a escravidão, os estudos, a política internacional, tudo aparece em ação nos personagens, o que revela um escritor que compreendeu o ofício do escritor, tendo internalizado, muito anos de Camus escrever, que “Se você quer ser filósofo, escreva romances.” (CAMUS, 2014, p. 18).
3. O Rio de Janeiro (de Machado e meu)
A primeira vez que estive no Rio de Janeiro foi em 2010 e foi uma das minhas primeiras viagens. Na época, fiquei uma semana e acordava às seis da manhã e dormia às duas da madrugada. Eu tinha vinte anos e toda a minha energia era dedicada à cultura. Assim, fui atrás de locais importantes para a história do Brasil e para a obra machadiana. Aquela viagem foi tão importante em minha formação que ela ocupou (ocupa) um lugar especial em minha memória, e eu queria voltar àquela que é chamada, apesar de todos os problemas que possui, de Cidade Maravilhosa.

Rua dos Inválidos
Quinze anos depois, tive a oportunidade de voltar à cidade cheia de maravilhas que é o Rio de Janeiro. É uma cidade violenta e cheia de moradores de rua? Sim, mas, também cheia de belezas naturais e de cultura. Infelizmente, como afirma Walter Benjamin, “Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie.” (BENJAMIN, 1994, p. 225). O fato é que aproveitei a viagem para ir atrás do que constituía o mundo de Machado e, assim, se Machado tinha o seu Rio de Janeiro, eu também posso dizer que tenho o meu, o que se revela por meio deste e de outros textos sobre Machado.

Praia do Flamengo
Referências
Albert Camus. Cadernos (1935-1937): A esperança do mundo. Tradução Rafael Araújo e Samara Geske. São Paulo: Hedra, 2014.
Machado de Assis. Dom Casmurro. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2016.
Otto Maria Carpeaux. História da Literatura Ocidental. O Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo. Rio de Janeiro: Leya, 2012.
Rainer Maria Rilke. Cartas a um jovem poeta. Trad. de Pedro Süssekind. Porto Alegre: L&PM, 2013.
Walter Benjamin. Sobre o Conceito de História. In: Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. v. 1. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 222?232.