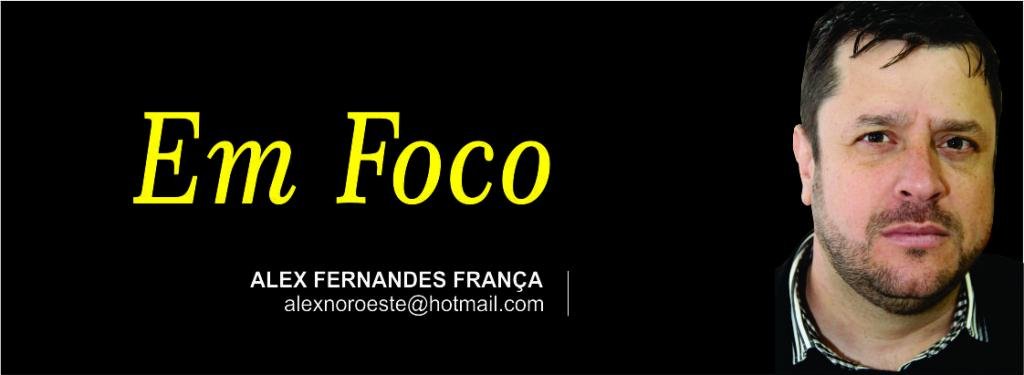Lixo nas estradas: quando a falta de consciência pesa mais que a falta de estrutura
 O recente aumento de denúncias sobre o descarte irregular de lixo na zona rural de Nova Esperança revela uma contradição preocupante: embora a cidade disponha de um Ecoponto, solução pública e gratuita para o destino adequado de resíduos, ainda persiste uma prática que degrada o meio ambiente, compromete a saúde pública e agride a coletividade.
O recente aumento de denúncias sobre o descarte irregular de lixo na zona rural de Nova Esperança revela uma contradição preocupante: embora a cidade disponha de um Ecoponto, solução pública e gratuita para o destino adequado de resíduos, ainda persiste uma prática que degrada o meio ambiente, compromete a saúde pública e agride a coletividade.
Esse problema não pode ser analisado apenas como falta de informação, mas como reflexo de uma cultura de desresponsabilização social e de relações desiguais entre sociedade, poder público e natureza. Nesse sentido, a Educação Ambiental Crítica (EAC) nos ajuda a compreender que não basta instruir a população sobre onde descartar os resíduos, é preciso problematizar os valores que sustentam tais práticas.
Para Loureiro (2004), a Educação Ambiental deve ir além da transmissão de conteúdos, promovendo a reflexão crítica sobre os modelos de produção e consumo que geram injustiça ambiental. Ou seja, não se trata apenas de ensinar a “não jogar lixo no chão”, mas de compreender como o consumismo, a falta de políticas públicas mais integradas e a ausência de participação comunitária contribuem para a perpetuação desse cenário.
 Da mesma forma, Guimarães (2006) destaca que a Educação Ambiental Crítica busca superar a visão reducionista e comportamentalista, valorizando processos de conscientização que conduzam à ação transformadora. Ao se deparar com estradas rurais tomadas por resíduos, a indignação da comunidade, expressa em denúncias e revolta, precisa se transformar em participação ativa: fiscalização, denúncia, mas também engajamento em práticas coletivas de cuidado.
Da mesma forma, Guimarães (2006) destaca que a Educação Ambiental Crítica busca superar a visão reducionista e comportamentalista, valorizando processos de conscientização que conduzam à ação transformadora. Ao se deparar com estradas rurais tomadas por resíduos, a indignação da comunidade, expressa em denúncias e revolta, precisa se transformar em participação ativa: fiscalização, denúncia, mas também engajamento em práticas coletivas de cuidado.
Outro ponto central é o papel do poder público. A existência do Ecoponto é um avanço, mas, como defende Jacobi (2003), a gestão ambiental não deve se restringir à infraestrutura — é necessário criar espaços de diálogo, por exemplo nas escolas e corresponsabilidade, onde a população seja parte do processo decisório e se reconheça como agente de mudança. Apenas a disponibilização de um local de descarte não garante que o problema seja resolvido, se não houver envolvimento crítico e contínuo da sociedade.
 O descarte irregular de resíduos não é apenas uma infração legal, é uma agressão ao bem comum. Mais do que aplicar multas, é preciso investir em processos educativos permanentes que articulem comunidade, escolas, associações rurais e poder público. A reciclagem, quando acompanhada de engajamento social, deixa de ser apenas uma técnica e se torna, como lembra Layrargues e Lima (2014), uma prática política de resistência frente à lógica do desperdício e da mercantilização da natureza.
O descarte irregular de resíduos não é apenas uma infração legal, é uma agressão ao bem comum. Mais do que aplicar multas, é preciso investir em processos educativos permanentes que articulem comunidade, escolas, associações rurais e poder público. A reciclagem, quando acompanhada de engajamento social, deixa de ser apenas uma técnica e se torna, como lembra Layrargues e Lima (2014), uma prática política de resistência frente à lógica do desperdício e da mercantilização da natureza.
Portanto, enfrentar o problema exige compreender que a preservação ambiental não é responsabilidade individualizada, mas coletiva. Nova Esperança precisa avançar para uma cultura de cuidado que vá além da limpeza imediata, promovendo uma transformação de mentalidade. Como reforça a Educação Ambiental Crítica, somente com participação ativa, reflexão e engajamento será possível romper com a lógica do descaso e construir uma cidade verdadeiramente sustentável.

Referências
- GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambiental: da prática escolar à prática social. Campinas: Papirus, 2006.
- JACOBI, Pedro Roberto. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, v. 118, p. 189-205, 2003.
- LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambiente & Sociedade, v. 17, n. 1, p. 23-40, 2014.
- LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Educação Ambiental Crítica: contribuições e desafios. In: LAYRARGUES, Philippe Pomier (org.). Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: MMA, 2004.
· * Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Historiador e Mestre em Ensino