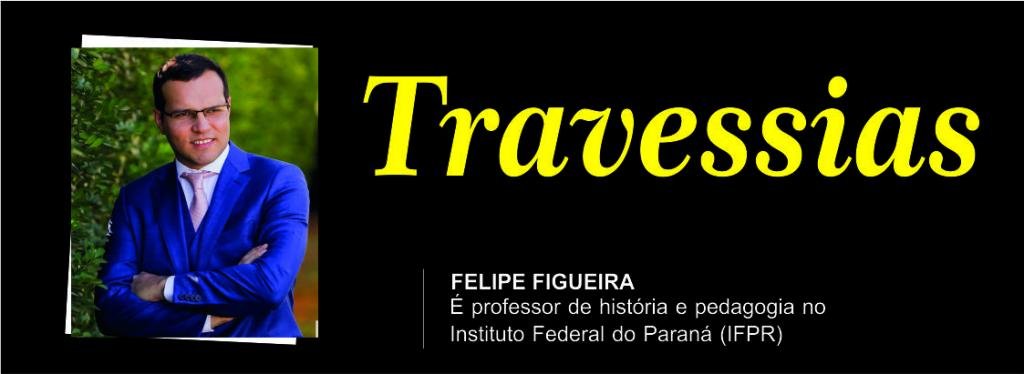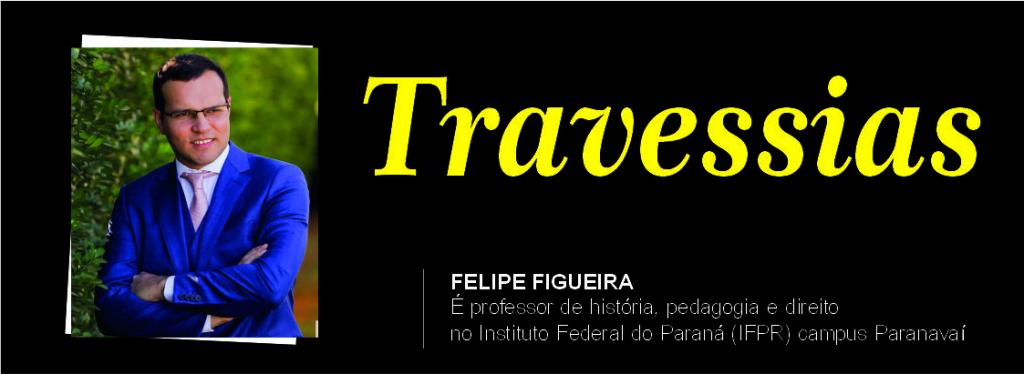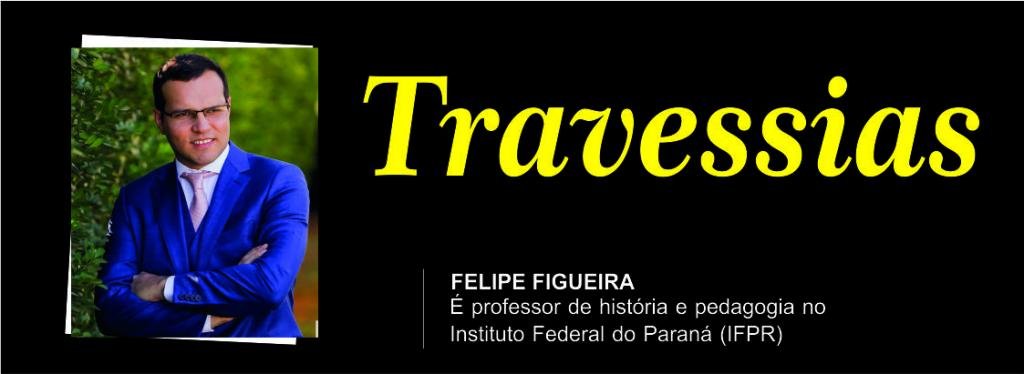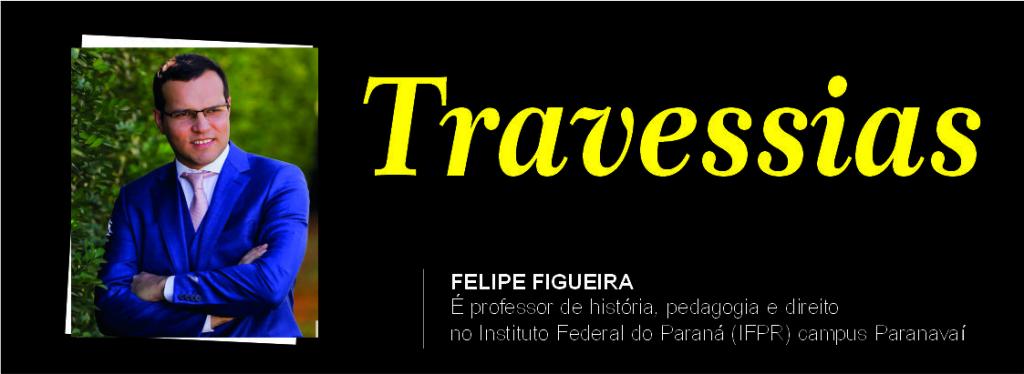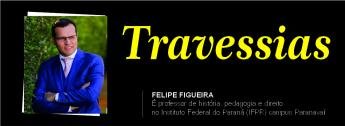“Vidas Secas”, de Graciliano Ramos
Uma das funções essenciais da escola é a de romper com o “tempo linear”, que pode ser imperativo na vida social e familiar. É essa a ideia trazida por Jan Masschelein e Maarten Simons:
A escola cria igualdade precisamente na medida em que constrói o tempo livre, isto é, na medida em que consegue, temporariamente, suspender ou adiar o passado e o futuro, criando, assim, uma brecha no tempo linear. O tempo linear é o momento de causa e efeito: “Você é isso, então você tem que fazer aquilo”, “você pode fazer isso, então você entra aqui”, “você vai precisar disso mais tarde na vida, então essa é a escolha certa e aquela é a matéria apropriada”. Romper com esse tempo e lógica se resume a isso: a escola chama os jovens para o tempo presente (“o presente do indicativo” nas palavras de Pennac) e os libera tanto da carga potencial de seu passado quanto da pressão potencial de um futuro pretendido planejado (ou já perdido) (MASSCHELEIN & SIMONS, 2019, p. 36).
No entanto, é fácil constatar que romper com a referida linearidade é das coisas mais difíceis que há, algo que foi chamado até de “fatalismo das famílias” por Daniel Pennac (2008, p. 22). Tal realidade, dura, é trazida em linhas belíssimas no curta “Vida Maria”, de 2007. Maria tenta, quando criança, estudar, porém, a sua mãe diz que isso é bobagem e, sob o sol escaldante do sertão, é mais importante trabalhar do que ler. E assim se reproduz tragicamente a realidade de mãe para filha e de mãe para filha numa árida repetição.
“Vidas Secas”, clássico de Graciliano Ramos, retrata o fatalismo de Fabiano, sinhá Vitória, seus dois filhos, tão somente chamados de “menino mais velho” e “menino mais novo” e Baleia. Fabiano constata que segue o modo de vida de seu pai e de seu avô e que além dessas duas gerações não há mais nada em sua memória.
Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem. Nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, ensebar látegos – aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias (RAMOS, 1983, p. 96).
O sol em “Vidas Secas” castiga até o leitor. Se Carolina de Jesus dizia que a fome era amarela, podemos dizer que a seca é vermelha, cor de sangue. Ironicamente, sangue, enquanto símbolo para vida, multiplicidade, é o que menos se vê nas histórias dos sertanejos. Sai dia, entra dia, e o “tempo linear” é o que permanece, dizendo que o amanhã será igual ao hoje e que a esperança é um luxo. Claro que aqueles que chegam a certo sítio caminhando, atrás de coisas melhores, atingem um nível de horizonte que ou continuam a caminhar ou morrerão à míngua. A isso é possível chamar de esperança?
O “menino mais novo”, em determinado ponto da história, admira-se do estilo de Fabiano, do seu jeito de lidar com os animais, da sua destreza. Em êxtase, diz a si próprio que gostaria de ser igual ao pai. O pai é o seu modelo.
Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras a mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros e palha, calçar sapatos de couro cru.
Subiu a ladeira, chegou-se a cada devagar, entornando as pernas, banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cabalo brabo e voaria na catinga como pé-de-vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio assim torto, de perneiras, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e Baleia ficariam admirados (RAMOS, 1983, p. 52-53).
Como é possível dizer que o menino mais novo não é crítico, que não sonha com um futuro melhor? Julgar é não compreender nada. A “vida Maria” não é a da criança que pode se dar ao prazer de ter tempo livre (skolé: escola, tempo livre).
Para não terminar esta resenha de forma trágica, é preciso afirmar a importância da educação, de políticas públicas educacionais para romper com o tempo linear, pois, em boa parte dos casos, há uma repetição da repetição (com algumas diferenças, evidentemente), mas que, sob o poder transformador da educação, o sol árido pode se converter, platonicamente, em sol conhecimento.
MASSCHELEIN, Jan & SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão pública. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2019.
PENNAC, Daniel. Diário de Escola. Trad. de Leny Werneck. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio, São Paulo: Record, 1983.
Por Felipe Figueira