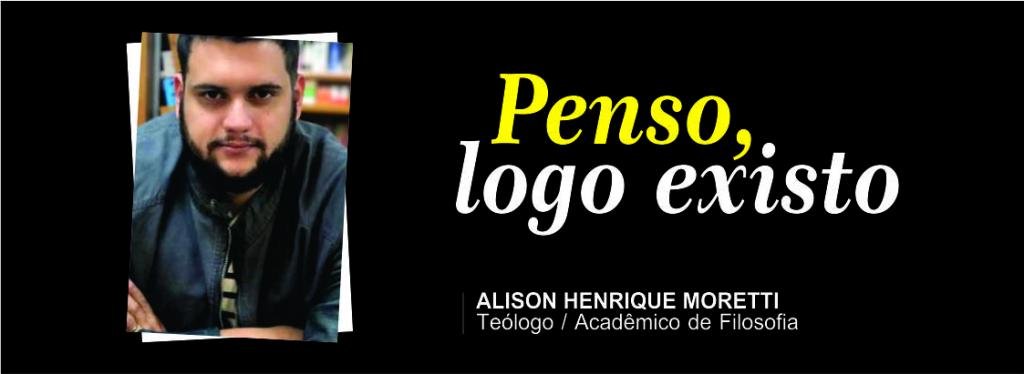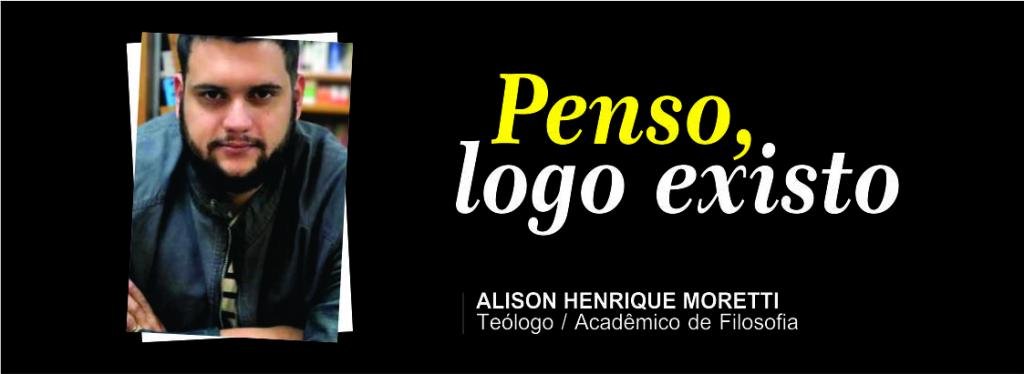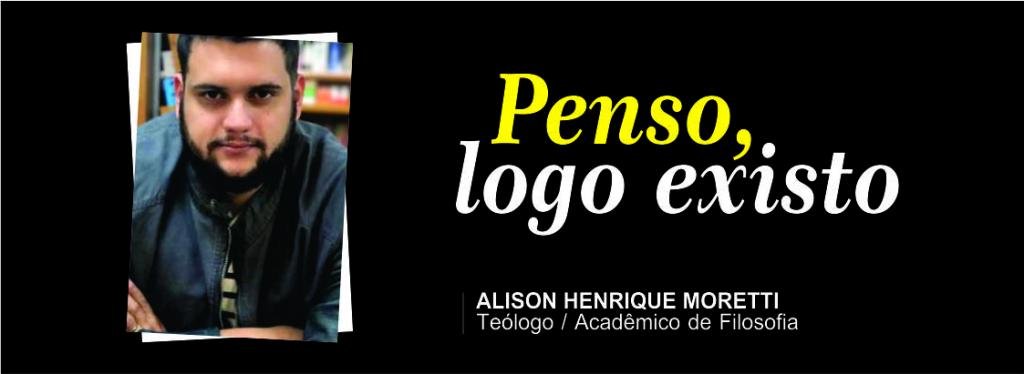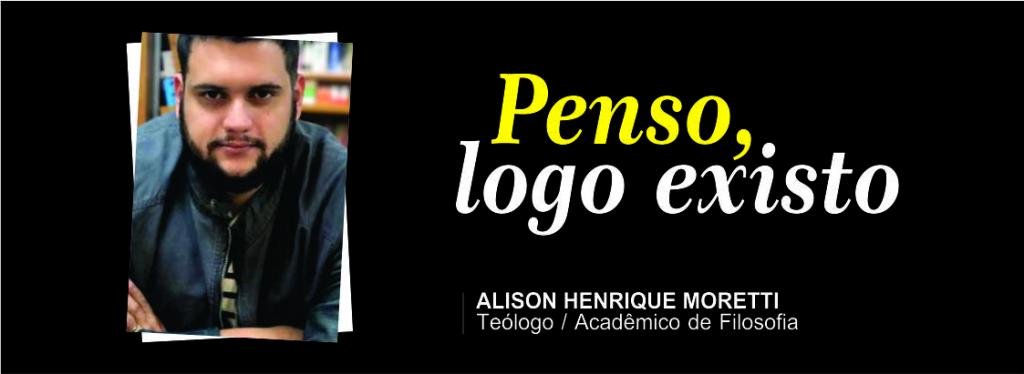Verdadeiro ou falso?
“O que é a verdade?” Esta é a famosa pergunta feita por Pilatos a Jesus de acordo com o Evangelho de João capitulo 18 e verso 38. Uma das maiores angustia que tem movido à humanidade ao longo da sua existência é busca pela verdade ou conhecimento. Houve um tempo em que o conhecimento existente era conhecido como “mito”, obviamente que é preciso fazer distinção entre o conceito que costumeiramente você tem de mito e do que o termo significa pra filosofia principalmente na Grécia antiga.
De acordo com o dicionário filosófico de José Ferrater Mora, o mito é um relato de algo fabuloso que se supõe que aconteceu num passado remoto e quase sempre impreciso. Os mitos podem referir-se a grandes feitos heroicos que, com frequência são considerados como fundamento e o começo da história de uma comunidade ou do gênero humano em geral. Podem ter como conteúdo fenômenos naturais, e nesse caso costumam ser apresentados alegoricamente. Muitas vezes, os mitos comportam a personificação de coisas ou acontecimentos.
Observe que os mitos tinham o papel de dar explicação a coisas inexplicáveis, como por exemplo, a origem do universo. A filosofia nasce justamente da insatisfação de alguns homens em relação aos mitos. Insatisfeitos com respostas de “um relato de algo fabuloso que se supõe que aconteceu num passado remoto”, eles vão à busca da verdade. Ai nasce à filosofia ou a busca pelo conhecimento.
Desde então as pessoas vivem cercadas de verdades que julgam ser absolutas e que norteiam suas vidas.
Mas ainda na Grécia antiga, Platão já dizia que aquilo que chamamos de realidade nada mais é que a sombra do mundo real, que ele chamou de mundo das ideias, ou seja, estamos cercados por ilusões.
Mais a frente, pensadores mais cético como o inglês Davd Hume e mais tardio ainda como o materialista Karl Marx, já diziam que a única verdade existente é aquilo que vemos e podemos tocar, ou seja, a matéria.
Mas por que o homem possui essa necessidade de acreditar em verdades e de aceitar certas coisas como verdadeiras? O que caracteriza no homem esse “impulso à verdade”?
Em seu ensaio intitulado “Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral” Friedrich Nietzsche tenta responder justamente essas questões que levantei acima.
Nietzsche se pergunta pelo papel do intelecto, pela forma como o homem inventa a linguagem e especialmente por um fenômeno curioso que pode ser chamado de “impulso à verdade” ou então de “vontade de verdade”, expressão que traduz aquela necessidade que o homem demonstra de acreditar em certas coisas como sendo verdadeiras e outras falas, e acaba optando pela verdade.
Para Nietzsche, acreditar na verdade, assim como acreditar que os conceitos são realidades e que eles podem ser avaliados por sua equivalência com as coisas ou com as ideias, oferece uma segurança maior para o homem, é melhor a verdade do que o seu contrário. Não que sejamos bonzinhos ou seres extraordinários que vivem em busca da verdade.
A verdade mesma (pergunta de Pilatos), Nietzsche diz em seu ensaio “é apenas uma ilusão que se produz por meio do uso da linguagem e do esquecimento, ela é um produto da capacidade de dissimulação do intelecto”. As verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas.
Produtos que ganharam adornos, que foram enfeitados e que, com o uso prolongado, foram parecendo sólidos e seguros para um determinado povo. De fato, o que o intelecto produz são metáforas utilizadas para dizer as coisas.
Com o passar do tempo, porém, o homem se esquece dessa característica metafórica daquilo que usa na linguagem e confere às metáforas iniciais o status de conceitos, que não são mais apresentados como afirmações provisórias, mas com a função de dizerem o que as coisas são de fato. Mais adiante o homem passa a acreditar que está designando as coisas mesmas por meio das palavras e, no extremo desse movimento, passa a falar na verdade em si (o que é “a” verdade?). Tal movimento, no entanto, curiosamente acompanha a própria função ilusionista do intelecto. Inicialmente, ao produzir representações para algo, ilusões, disfarces e, depois, ao levar o homem a acreditar que isto seja uma representação da coisa mesma. Nova ilusão.